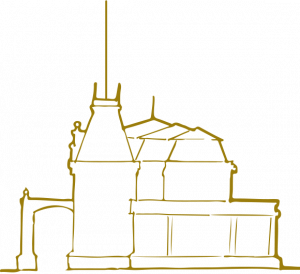O roubo de mercadoria e a responsabilidade civil do transportador
Por Maurício Luís Pinheiro Silveira
Desembargador Guimarães e Souza:
Mais uma vez, eu peço ao Doutor Ernesto Tzirulnik que faça a apresentação do Professor Maurício Luís Pinheiro Silveira.
Doutor Ernesto Tzirulnik:
Antes de apresentar o Maurício, eu queria corrigir um erro que cometi ao apresentar o Ayrton Pimentel. Eu havia dito que quando se pensava, entre os advogados do mercado segurador, em alguém que, nos últimos 20 anos – são os anos que eu venho testemunhando –, conhecesse a fundo o seguro de vida e acidentes pessoais, se pensava em Ayrton Pimentel. Isso não é verdade completa. É que além do Ayrton Pimentel tem o Armando Ribeiro Gonçalves que, até há pouco, estava aqui entre nós. E pra falar de ambos, eles sempre trabalharam juntos. É um time indestrutível, que a gente tinha e tem que estar consultando sempre.
O Doutor Maurício é meu colega de escritório, advogado formado pela PUC de São Paulo, assistente na PUC em Direito Constitucional, tem larga experiência no Direito Público. Felizmente ele veio dedicar sua raça ao Direito do Seguro. É advogado brilhante, sério, com muita garra. Eu diria que sou um dos “dependentes” dele.
O tema que vai ser tratado pelo Doutor Maurício nasceu, pelo menos no escritório, a partir de uma alusão que fiz sobre a mudança dos conceitos de responsabilidade e risco a partir do seguro, que o Sanchez Callero chama por relação em espiral e que podemos identificar como dialética. Foi o suficiente pro Maurício, a partir de suas próprias convicções, no mesmo dia dizer “O seguro de responsabilidade civil por roubo, no plano patrimonial, evidencia que os efeitos negativos do roubo não são necessários. Olhem aí a responsabilidade do transportador!” Essa conclusão migrou para todos nós, que passamos a entender a questão do roubo e a sua equiparação a fortuito ou a força maior, de forma radicalmente diferente daquela que vínhamos, mecanicamente reproduzindo no nosso cotidiano.
Desembargador Guimarães e Souza:
Eu pediria aos participantes do curso que tenham o interesse em formular questões relativas aos temas abordados pelo Doutor Pimentel e pelo Doutor Maurício, que encaminhassem as perguntas por escrito à mesa para nós, ao final, fazermos aos dois expositores. Passo a palavra ao Doutor Maurício Luís Pinheiro.
Doutor Maurício Luís Pinheiro Silveira:
Obrigado.
Bom, gostaria primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar participando deste evento. Acho que todos que pude ver falando aqui, nesse curso, fizeram a mesma ponderação, que é necessária, de que na área de seguros muito pouco se produz, muito pouco se discute. O Doutor Ayrton colocava isso há pouco. A doutrina na área de seguros no Brasil é quase inexistente e isso sempre causa muitas dificuldades a todos aqueles que pretendem estudar Direito do Seguro e me parece que isso também se prolonga no âmbito das decisões judiciais. Enfim, eu acho que essa dificuldade é geral. Então, esses eventos, certamente, de um modo ou de outro, contribuem para reduzir um pouco esse problema que existe – e seriamente – na área do Direito do Seguro. Vamos, então, à nossa análise.
Para que se analise a responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas é fundamental que se tenha em vista as circunstâncias históricas que determinaram a forma como hoje o Poder Judiciário decide essas questões. Há elementos essenciais que foram se alterando com o passar do tempo e que precisam ser resgatados para que possamos fazer uma análise mais ponderada sobre essa questão.
Então, eu inicio fazendo um histórico – breve, mas necessário.
Até o início ou meados da década de 80 os transportadores eram sistematicamente responsabilizados pelo desvio da carga decorrente do roubo. Assim, quando se analisam as decisões que eram proferidas nesse período, se observa que o Poder Judiciário, sistematicamente, reconhecia a responsabilidade do transportador de cargas quando, durante o transporte, a mercadoria era subtraída e, conseqüentemente, determinava que esse indenizasse o dono da carga, o dono da mercadoria.
Essa realidade inquietava muitíssimo o mercado transportador naquela oportunidade. E por que razão? Basicamente porque à época o transportador, no exercício normal da sua atividade, estava sujeito à ocorrência de roubos de carga – já, naquela oportunidade, relativamente expressivos – e não possuía elementos estatísticos que permitissem a eles saber, de antemão, qual seria a incidência desse evento (roubo de carga) na sua atividade global.
O transportador sabia que, muitas vezes, ao lançar a mercadoria ao transporte, teria-na subtraída, mas não tinha como observar esse fenômeno na sua globalidade, não tinha como observar esse fenômeno no seu todo, não tinha estatísticas, ainda, que permitissem a ele uma análise mais ampla da sua atividade de modo geral. Não sabia quais seriam os percentuais de perda que ele teria em sua atividade, decorrentes do roubo da carga. E mais que isso: não podia, o transportador, já naquela época, evitar a ocorrência do roubo da carga, porque, na maioria das vezes, as quadrilhas que se especializavam em roubos de carga, se apresentavam sempre muito aparelhadas, sempre com uma estrutura que impedia a reação por parte dos transportadores. Assim, a carga, quando posta a transporte, muitas vezes, era subtraída. O transportador não sabia qual era a incidência que esse evento teria na sua atividade.
Há um terceiro elemento, fundamental, nessa análise. Não existia, naquela oportunidade – reitero que estamos falando do início da década de 80 – cobertura securitária para o evento roubo de carga. O transportador não possuía, não conseguia no mercado, cobertura para o evento roubo.
Então, vejam que ele estava diante de um fato que ocorria na sua atividade, em relação ao qual não tinha uma visão estatística acerca dos percentuais de incidência e contra o qual não podia se precaver. Primeiro porque o evento em si era insuperável, as quadrilhas de roubo de carga se apresentavam de uma forma muito aparelhada que impedia a reação. Segundo porque não existia como esse transportador se precaver contra os efeitos desse evento que era a perda patrimonial, uma vez que não havia cobertura securitária para essa modalidade de risco.
Muito bem, essa preocupação, essa inquietação do mercado transportador se manifestou num encontro, especificamente num encontro de transportadores ocorrido em 1983, o “CONET”. Os transportadores, nessa oportunidade, discutiram largamente essas inquietações, essas preocupações, e dali surgiu a idéia de se levar ao mercado segurador um pleito no sentido da inclusão do evento roubo como risco coberto no seguro obrigatório do transportador. E isso foi feito.
O mercado segurador também, naquela época, não possuindo elementos mais apurados, estatísticos, atuariais, tinha uma dificuldade específica em conceder cobertura para o evento. Não estava suficientemente estruturado, naquela oportunidade, para lhe dar cobertura. Então, houve uma negativa por parte do mercado segurador em conceder cobertura naquela oportunidade.
Então vejam. O transportador estava diante de uma situação, de um impasse, que para ele era fundamental. Ele necessariamente estava diante de um risco e esse risco não podia ser segurado e estava causando prejuízos enormes à sua atividade. O que foi feito? Estruturou-se, a partir dessa realidade, uma tese jurídica segundo a qual estaria o roubo de carga equiparado ao caso fortuito ou de força maior. Foi elaborada uma tese jurídica, aliás, bastante estruturada, e o órgão representativo dos transportadores, a NTC – Associação Nacional dos Transportadores de Carga, fez com que essa tese, com que esse trabalho, essa peça defensiva, se espalhasse pelo país, para os seus associados. E qual foi a decorrência disso? Os transportadores passaram a se defender nas demandas em que se solicitava indenização, através dessa tese, passando a existir, hora aqui, hora ali, decisões judiciais reconhecendo a equiparação do roubo de carga ao caso fortuito ou de força maior.
Isso foi tomando um volume no âmbito do Poder Judiciário, criando jurisprudência, até que chegou ao Superior Tribunal de Justiça – que acolheu a tese – de modo que, a partir de um determinado momento, passou o Poder judiciário a decidir, quase que na sua totalidade, pela equiparação do roubo de carga ao caso fortuito ou de força maior. Esse é o quadro histórico que existia e que é importante que nós tenhamos em mente quando da elaboração dessa tese que veio a ser admitida pelo Poder Judiciário.
Muito bem. O tempo passou e muita coisa ocorreu. Esses elementos que permitiam que essa tese se estruturasse, sofreram alterações significativas. Então, gostaria de pontuá-los no sentido de evidenciar que hoje já não se pode mais manter o mesmo raciocínio.
O roubo de carga, infelizmente, com o passar dos anos, da década de 80 para cá, tomou uma dimensão extraordinária. Assim, hoje, infelizmente, o roubo de carga é uma constante da atividade transportadora, faz parte da lógica da atividade do transportador. Não há transportador que não saiba que necessariamente estará sujeito à incidência, e num percentual significativo, de roubos de carga, porque, infelizmente, cada vez mais se tem a ocorrência desse tipo de evento. Hoje, esse evento toma uma proporção muitíssimo maior do que naquela época.
Há, no entanto, uma situação diferente. Os órgãos representativos dos transportadores passaram a realizar estudos estatísticos muitíssimo precisos, de modo que hoje, se nós formos analisar os estudos estatísticos que são feitos pela Federação dos Transportadores, pelo Sindicato dos Transportadores, pela NTC, nós vamos perceber que a precisão que se chegou nesses estudos é muito grande. Sabe-se inclusive dias e horários em que os roubos acontecem com mais freqüência, que tipos de mercadorias são mais ou menos visadas, em que estradas ocorrem esses eventos com mais freqüência, em que trechos de estradas, enfim, existe uma estrutura estatística muitíssimo precisa hoje em dia e que permite que o transportador possa não saber que vai ter o desvio da carga nesse ou naquele carregamento, mas, necessariamente, que na sua atividade global ele terá “x” por cento de perda em média. Isso hoje é absolutamente possível diante desses estudos estatísticos que, como dito, evoluíram muito.
Então, hoje, para o mercado transportador, o roubo de carga é uma constante, um evento que ele conhece com muita precisão, que ele sabe exatamente no que irá importar. Ou seja, em que perda irá importar a incidência desse tipo de evento na sua atividade.
E há, ainda, um segundo elemento que me parece ser o ponto central da nossa análise. A partir de meados da década de 80, aproximadamente 85, o mercado segurador passou a disponibilizar para o transportador uma cobertura para o evento roubo de carga. Passou a existir, a partir de um determinado momento, uma cobertura específica, um seguro de responsabilidade civil facultativo à disposição do transportador, que cobre especificamente o roubo de carga.
Vejam só a mudança da realidade que permitiu, naquele momento, que se criasse uma tese que até hoje sobrevive, no nosso modo de ver, de forma equivocada. Hoje em dia não se pode dizer que o transportador ignora a existência de um percentual “x”, “y” ou “z” de perdas em sua atividade decorrentes do roubo de carga. Ele conhece esse universo, sabe qual vai ser a sua perda efetiva em cada período, decorrente desse evento. Mais que isso: ele tem um seguro à sua disposição. Tem, assim, condições de se precaver contra o resultado desse evento, basta que contrate o seguro de responsabilidade civil e, no momento em que tiver a perda, poderá, junto ao seu segurador, obter a indenização correspondente.
Muito bem. Feito esse quadro, que é fundamental para que se compreenda essa análise, nós precisamos analisar como se dá a previsão normativa do caso fortuito ou de força maior. O que diz a legislação? O que diz o Código Civil sobre o caso fortuito ou de força maior? Basicamente estou me referindo ao artigo 1.058 e, mais especificamente, ao seu parágrafo único, que eu vou pedir para que seja projetado no telão para que a gente tenha uma maior facilidade de visualização.
Vejam o que diz o Código Civil, o que diz o artigo 1.058 no seu parágrafo único: “O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir”.
Então vejam: não diz o Código Civil – aí eu chamo a especial atenção de todos, porque me parece que seja um ponto essencial para compreensão dessa questão – que estará caracterizado o caso fortuito ou de força maior quando houver um evento que não se possa impedir. Ele diz que haverá essa caracterização quando houver um evento, cujos efeitos não possam ser impedidos e aí é um ponto onde a Jurisprudência não tem se debruçado, onde, muitas vezes, as próprias defesas que se fazem nos processos judiciais não têm se debruçado e que nos parece a essência da discussão. Por quê? Porque, a partir da conceituação legal, pouco importa que o evento roubo seja inevitável, pouco importa que o transportador não consiga evitar a ocorrência do evento. Para a caracterização do caso fortuito ou de força maior deve ficar caracterizado que não se pode evitar os efeitos do evento.
E quais são os efeitos do evento roubo de carga? Os efeitos do evento roubo de carga não são outros senão a perda patrimonial e, uma vez que se tem uma cobertura securitária específica para esse tipo de evento, ou seja, uma vez que o transportador pode evitar os efeitos disso, uma vez que o transportador possa se precaver contra os resultados dos roubos de carga, não se pode mais, em hipótese alguma, falar-se em equiparação do roubo de carga ao caso fortuito ou de força maior.
Estamos hoje diante de uma situação completamente distinta daquela que tínhamos quando essa tese foi criada. Naquele momento – reitero – não existia uma situação que permitisse ao transportador se precaver contra as perdas que tinha em relação ao roubo da carga. Hoje essa realidade é completamente distinta e, no entanto, nós continuamos repetindo aquela tese, nós temos uma visão preestabelecida de que o roubo de carga é equiparado ao caso fortuito; nós repetimos isso sem fazer essa análise de que o quadro, o cenário que permitia essa caracterização foi completamente alterado.
Assim, o que nos levou a nos debruçarmos sobre essa questão foi justamente a constatação do fato de que existe, hoje, uma realidade que impede essa caracterização e que tem passado ao largo das discussões, ao largo das decisões. Mais que isso – e penso que seja fundamental também essa análise –, não houve somente uma alteração do quadro fático, houve uma alteração significativa do instituto da responsabilidade civil.
O instituto da responsabilidade civil sofreu alterações significativas também durante esse período. O foco da responsabilidade civil deixou de ser o punitivo para ser o indenizatório. A preocupação, hoje, no âmbito da responsabilidade civil, não é a de se saber quem é o culpado para que seja punido, mas sim como e de que forma vamos indenizar a vítima, porque a própria sociedade se modificou. Vivemos hoje, até para fazer uso da expressão da Professora Graciela Estrella Gutierrez, “na era da tecnologia”. Era da tecnologia que, enfim, nos traz riscos completamente distintos daqueles que tínhamos há algum tempo e, mais que isso, traz um modo completamente distinto de se pensar a indenização.
A tendência, hoje, da responsabilidade civil, é no sentido da objetivação. O Código de Defesa do Consumidor, aliás, é um marco nesse sentido. Eu uso um determinado aparelho – não preciso ir longe, existe, hoje, uma enorme discussão sobre eventuais malefícios que pode um telefone celular causar (coisa que não era imaginada há alguns anos). Então, o que acontece? Eu tenho um determinado aparelho e, digamos, pelo defeito de uma peça interna, me causa um determinado dano. Não faz sentido, não se concebe mais que, como consumidor, eu vá realizar uma análise técnica, aprofundada, para saber qual a peça dentro daquele aparelho que deu problema, qual problema foi esse, se foi de responsabilidade ou não, se houve culpa ou não daquele que produziu a peça. Eu simplesmente adquiri um produto, esse produto causou danos e terei que ter esses danos reparados por aquele que auferiu lucro com a venda desse produto.
Depois esse indivíduo, essa empresa, que vendeu o produto e que irá responder pelos danos por ele causados, imediatamente, poderá, na via regressiva, ingressar em discussões mais alongadas, em discussões mais aprofundadas, mas a vítima já estará indenizada.
Desse modo, caminhamos também, durante esse período, para uma nova realidade da responsabilidade civil. E o que eu chamo atenção é para que, se isso já ocorre no âmbito genérico, no tocante à responsabilidade civil genérica falada, com muito mais razão isso deve ocorrer em atividades como a de transporte de carga. Porque vejam: há determinadas atividades que trazem o risco embutido nela própria. Há determinadas atividades que têm com o risco uma relação imediata.
O transportador sabe, no momento em que é contratado, que está sujeito a um risco, risco que ele conhece perfeitamente, contra o qual pode se precaver e que é intrínseco à atividade da qual aufere substanciosos lucros.
No momento em que é contratado, ele sabe que está submetido a um determinado risco, conhece como ninguém esse risco, pode se precaver contra esse risco, aufere substanciosos lucros dessa atividade e, quando o evento danoso acontece, ele transfere a responsabilidade para o dono da carga.
Aí se questiona: o transportador não conhecia o risco? Conhecia! Não tinha condições de se precaver contra os seus efeitos?. Tinha! E é equiparado ao caso fortuito ou de força maior, por quê? Porque tem sido assim.
É fundamental que se faça uma análise também sobre o desenvolvimento do instituto da responsabilidade civil durante esse período. A nossa sociedade é outra, as realidades são outras; a atividade transportadora é uma atividade eminentemente de resultado, pois quando se contrata um transportador o que se quer é que ele entregue a mercadoria. Quando ele não entrega a mercadoria, o contrato está descumprido. “Ah, mas eu tenho uma excludente de responsabilidade!” “Não, essa excludente não existe; é impossível, pela lógica do Código Civil, que se equipare o roubo de carga ao caso fortuito”!
Ainda ficamos, muitas vezes, presos à teoria da culpa quando a sociedade moderna já não admite mais isso. Vejam só: há inúmeras atividades e aqui nós podemos enumerar quantas precisar, mas a que me chama mais a atenção é a atividade de estacionamento. Vê-se, muitas vezes, em demandas judiciais, estacionamentos alegando que não são responsáveis pelo roubo do veículo porque se trata de um caso fortuito. Mas vejam só: se eu quiser sofrer o risco de ter o carro roubado eu deixo o carro na rua; quando coloco o carro no estacionamento é porque, evidentemente, quero ter protegido meu veículo. Não estou entregando para uma atividade meio, estou entregando para uma atividade fim; quero que ele proteja o veículo e, se o meu veículo não for protegido, o contrato estará descumprido e ele terá que indenizar.
O mesmo acontece em relação ao transporte. Quando se entrega a mercadoria para transporte o objetivo é que o transportador realize a entrega e se essa entrega não é feita ele é responsável. Se quisesse sofrer o risco, eu próprio o sofreria, eu não pagaria a alguém para sofrer por mim. Então, esse risco está inerente à atividade!
Pretendo não me alongar muito, porque gostaria de ouvir as ponderações que virão do debate, mas não consigo enxergar de que modo poderíamos, ainda, manter esta idéia de equiparação do roubo de carga ao caso fortuito.
Embora a quase totalidade das decisões judiciais proferidas hoje em dia sejam nesse sentido, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, essa discussão sobre a possibilidade de se evitar os efeitos do roubo de carga não é feita. E mais! Se formos prosseguir nessa análise das atividades que têm um risco embutido e que continuam sendo analisadas através da teoria da culpa, nós ficamos aqui a tarde toda. Menciono, “en passant”, as distribuidoras de gás e as distribuidoras de energia, que atuam numa área em que o risco está diretamente relacionado com o exercício da atividade. Auferem lucros extraordinários de sua atividade e, no momento em que vem o dano, que já era previsível, transferem a responsabilidade para o consumidor: “olha, a minha responsabilidade só vai até o momento em que entrego ao consumidor, no momento em que eu forneço o gás ao consumidor, no momento em que eu forneço energia ao consumidor. Daí pra frente eu deixo a responsabilidade para ele”. “Mas você não é o especialista? Não é você quem conhece o risco de forma específica? Não é você quem sabe onde está exatamente o problema que pode gerar o dano? Não é você quem pode se precaver antecipadamente quanto aos efeitos desse dano, através da contratação do seguro que é posto a sua disposição?”, “Sim, mas nós continuamos tratando essas atividades a partir da ótica da teoria da culpa”.
Vou um pouco além, porque existem ainda, no âmbito da atividade transportadora, questões que muitas vezes fogem até dessa ótica evidentemente jurídica, mas que são fundamentais para que compreendamos globalmente essa situação.
Vejam só: o transportador de cargas tem, na sua atividade, perfeito domínio sobre como a mercadoria será transportada, por quais caminhos ela será transportada, em que horários ela será transportada, ou seja, é o transportador que detém toda a estrutura da operação. Aí nós chegamos à seguinte situação: embora seja o transportador quem detenha todo esse comando da atividade, a responsabilidade não está com ele, está com o terceiro – e ainda queremos que a incidência do roubo de carga reduza? Assim, vejam, a situação que se coloca como paradoxal (quero até fazer um parêntese que explica um pouco mais essa minha inquietação): o dono da carga, o embarcador, possui seguro, que também cobre o evento roubo. Então, muitas vezes, o que se alega é que não seria o transportador quem teria a obrigação de segurar a operação, mas é o dono da carga sobre quem, desta forma, ficaria concentrada a responsabilidade.
Todavia, esse fato tem gerado problemas seríssimos que, aliás, se iniciam pelos custos. Porque vejam só: o dono da carga transporta um determinado tipo de mercadoria; ele produz, digamos, cigarro, que é um dos produtos mais visados, ou produz medicamentos, outro muitíssimo visado, ou ainda eletroeletrônicos, o que acontece, então? Esse embarcador passa a concentrar um risco extraordinário e no momento em que ele vai contratar o seguro os valores são proibitivos.
Agora vejam o lado do transportador. O mesmo transportador transporta medicamento, parafuso, pneu, enfim, há, pela própria natureza da atividade, uma pulverização do risco. Então, o mesmo evento – transporte de medicamentos, por exemplo – se for analisado para efeito da cobertura dada ao dono da mercadoria, e pelo lado do transportador, terá um custo muitíssimo diferente.
Em se tratando do seguro do embarcador os valores serão muitíssimo elevados, já a cobertura concedida ao transportador terá custos significativamente menores, já que o risco estará pulverizado.
A seguradora, no primeiro caso, estará segurando exclusivamente medicamentos. Já no segundo, ela vai, no mesmo contrato, estar assegurando diversos tipos de mercadorias, cada uma com uma incidência diferenciada de risco, o que permite que se pulverize esse risco e que os valores de prêmio caiam substancialmente. Não preciso dizer, por óbvio, que esses custos são transmitidos para o consumidor final.
Assim, mesmo que nós analisemos por esse lado, ou seja, da incidência que tem o valor da cobertura no preço final do produto, porque quem arca é o consumidor, é muitíssimo mais vantajoso para a sociedade que o transportador realize o seguro e que seja responsabilizado por esse evento.
Por que razão? Porque o seguro, aqui, pela própria pulverização natural do risco, permite uma redução significativa do custo.
Agora, vamos àquela questão de quem tem controle sobre a operação. Quem realiza a operação é o transportador e quem responde é o dono da mercadoria. Tem uma lógica que, aliás, é elementar; é a seguinte: as transportadoras utilizam os caminhões como “outdoors” ambulantes; assim, a publicidade que é feita nos caminhões é um elemento que o transportador nem cogita em alterar. Mais que isso. Muitas vezes o transportador utiliza a carteira de clientes que possui para evidenciar a sua potência, para evidenciar, enfim, que é o transportador do embarcador “a” ou “b”. Está formada a equação que leva ao roubo da carga ou pelo menos à facilitação do roubo da carga, porque se sabe exatamente que a empresa transportadora tal ou qual transporta “Phillips” e os caminhões daquela empresa são identificáveis de imediato porque trazem o nome estampado, em letras enormes, na lateral do seu caminhão.
Entretanto, peça ao transportador para que tome precauções retirando a publicidade do seu caminhão. Ele, evidentemente, não o fará. E por que razão? Porque não responde pelas conseqüências disso. Para ele é indiferente se vai ter ou não vai ter o roubo da carga, porque quem responde é o dono da carga.
Então vejam: ele tem domínio sobre a operação, mas quem responde é outro. Costumo até, quando a gente conversa sobre isso, brincar que nesses raciocínios teria que valer o que se chama da “teoria do pudim”, que é a seguinte: se você pedir para alguém dividir um pedaço de pudim em duas partes – eu e o nosso colega vamos dividir, aqui, em duas partes, uma para cada um – a forma mais simples que se tem de determinar que a divisão seja feita de forma igualitária é dizer “você divide e ele escolhe”, aí eu fico lá, medindo milimetricamente, porque senão eu vou acabar ficando com o pedaço menor. Agora, quando me dão a opção não só de cortar, como também de escolher, tenho a impressão de que a lógica será outra.
O que parece que acontece aqui é isso: o mesmo indivíduo que está cortando o pudim também está escolhendo, ou seja, o transportador, que é quem tem o domínio sobre a operação, não tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade é o outro que não tem domínio nenhum sobre ela e que continua recebendo a carga de responsabilidade. É por força disso que nós temos situações em que os seguros do embarcador têm valores proibitivos; muitas vezes têm restrições que levam à impossibilidade de contratação, enquanto que os transportadores estão completamente livres dessa responsabilidade – muitas vezes nem seguro contratam, porque foi estruturada uma lógica de não responsabilização.
Nos parece que, por qualquer ângulo que se observe, a equiparação que se faz do roubo de carga ao caso fortuito é completamente equivocada, hoje, na lógica da operação.
Há mais um elemento, que o Dr. Ernesto acaba de me lembrar, que é o seguinte: se o transportador não tem responsabilidade pelo roubo da carga, diante da equiparação do evento ao caso fortuito ou de força maior, por que razão existe o seguro de responsabilidade civil do transportador que cobre o roubo da carga? Então o contrato de seguro é inclusive nulo, porque trata de um risco inexistente.
Alegam que não há risco, mas os transportadores contratam e existe o produto, por qual razão? Porque, na verdade, se sabe que a atividade transportadora é uma atividade de resultado e sendo assim a não entrega da mercadoria importa em sua responsabilidade, independente da caracterização da culpa.
Hoje o que se faz é o seguinte: quando ocorre o roubo da carga, a discussão no âmbito do Judiciário vai ser se o transportador devia ter utilizado aquela estrada, aquele horário, se parou ou não em local correto.
Vejam, pela lógica do artigo 1.058 isso é absolutamente desimportante; pouco importa se o transportador, naquele caso específico, agiu ou não com culpa. Nós não estamos falando em culpa, mas sim em responsabilidade e responsabilidade que, pelo fato de tratar-se de uma atividade de resultado, decorre da não entrega da mercadoria.
E não é devida a equiparação ao caso fortuito ou de força maior, por que o necessário, para que se caracterize, pela expressa disposição da lei, um evento como caso fortuito ou de força maior é inevitabilidade dos seus efeitos.
Porque vejam: para que tenhamos uma idéia prática do que seria isso, se nós soubermos pelos jornais de hoje de que dentro de uma semana iria passar um tornado pela Avenida Paulista levando tudo, o indivíduo que tem um prédio ali pode mais do que conhecer esse evento, porque não tem como se precaver contra o resultado disso; não tem o que fazer e o tornado vai passar, vai ser arrasador e ele vai ter enormes perdas.
Agora, quando você tem uma situação como essa, a qual nos referimos, onde é absolutamente conhecida e, mais que isso, assegurado um determinado ato à medida que seu agente possui seguro de responsabilidade civil que permite sejam evitados os efeitos, não há como se falar em equiparação ao caso fortuito.
É basicamente isso que eu gostaria de estar aqui passando e eu acho que as perguntas vão ser muito interessantes nesse sentido, para a gente poder debater e até porque sei que estou falando contra todo o entendimento que se tem, hoje, no Judiciário. Então, imagino que os questionamentos existam e que nós tenhamos que debatê-los.
É isso.
Agradeço a atenção de vocês e podemos prosseguir com as perguntas.
Desembargador Guimarães e Souza:
Cumprimento também o Doutor Maurício Luís Pinheiro Silveira pela brilhante exposição. Vou, inicialmente, formular uma questão para o Doutor Maurício. O Senhor disse que o transportador transporta vários tipos de mercadorias, umas de maior risco e outras de menor risco e, com isso, o prêmio para a seguradora ficaria pulverizado. Mas, aí, uma indagação, não uma contrariação e nem uma afirmação: se o risco, em determinadas circunstâncias, é mais do que previsível, é praticamente certo, como é o caso do transporte de cigarros, tal como o transporte de medicamentos, não haveria o risco ou a possibilidade das seguradoras não aceitarem a contratação do seguro, sob a alegação de que não existe mais o risco, porque o fato é certo? Ou, então, esse agravamento do risco a que ponto inviabilizaria o contrato de seguro pelo valor que ele iria pagar pelo prêmio?. A minha indagação é: não haveria essa possibilidade de que se tornasse inviável o seguro para o transportador?
Doutor Maurício Luís Pinheiro Silveira:
Eu compreendo.
A questão é a seguinte: hoje o embarcador tem um seguro obrigatório, ou seja, o embarcador é obrigado a fazer o seu seguro. Quando se trata, por exemplo, de um caso em que há medicamentos, em que há cigarros, café, enfim, mercadorias que se sabe que têm uma incidência maior do roubo de carga, os valores são extraordinários, por quê? Porque o embarcador concentra o risco. Esse risco está concentrado. O indivíduo que produz medicamentos fará o seu seguro sobre medicamentos e aí, de fato, estará havendo uma situação como estamos diante de uma situação em que a contratação do seguro seja proibitiva. Agora, quando se migra para o seguro do transportador, o que é que permite que o segurador faça ou conceda a cobertura? O que permite é justamente a pulverização que existe na própria atividade do transportador, ela consegue dar cobertura a esse evento porque ele não transporta só medicamento, ele transporta medicamentos, mas ele transporta uma série de outros produtos que estarão igualmente segurados e sobre os quais estarão incidindo o mesmo valor de prêmio que permite que, com a pulverização, possa existir um valor não proibitivo da contratação.
Entretanto, evidentemente, não podemos também ignorar essa situação. Todas as partes envolvidas nessa relação estão habituadas com essa realidade que nós vivemos hoje. Então, não é só o transportador que está habituado com essa realidade, o segurador também. Nossa ponderação é justamente no sentido de que essa lógica precisa ser alterada, e não só vai ser alterada apenas a lógica do transportador, mas como a do segurador também, porque há necessidade.
Vejam: nós vivemos numa sociedade da era tecnológica, uma sociedade moderna, em que nós não podemos nos furtar ao exercício de determinadas atividades. O transporte, por exemplo, de medicamentos, é uma delas. Há necessidade de se realizar.
Por força até dessa própria sociedade temos uma incidência de roubo muito grande, precisamos achar uma solução. E aí eu recordo o seguinte, e novamente citando a Professora Graciela Estrella Gutierrez: o seguro vem justamente solucionar esse problema que foi criado com o desenvolvimento da sociedade; num primeiro momento se tinha a visão punitiva da responsabilidade civil, passou-se a perceber que, pelo desenvolvimento das atividades, não era suficiente, por que razão? Porque muitas vezes não se sabe exatamente quem é o responsável, o culpado, por uma determinada situação e a vítima precisa ser indenizada. Mas se sabe que alguém aufere lucros de uma determinada atividade e se sabe que, a partir disso, pode-se estabelecer, na lógica da responsabilidade civil, uma responsabilidade objetiva.
Porém, isso, muitas vezes, também causa uma série de problemas, por qual razão? Porque nem sempre aquele que está sendo responsabilizado tem patrimônio suficiente para garantir a vítima. Então, a vítima pode, muitas vezes, ficar desprotegida; aí vem o seguro, que é justamente a idéia da solidariedade. Então, analisando-se o seguro como uma decorrência desse desenvolvimento da teoria da responsabilidade civil, chega-se ao momento da sociedade em que não se pode mais pensar na responsabilidade civil sem se falar na lógica do seguro. Assim, o seguro vem exatamente para solucionar esse problema, uma vez que há mutualidade, uma vez que a pulverização de riscos permite que mesmo riscos expressivos sejam absorvidos e, nesse caso, imaginem o seguinte: o seguro deve existir ou pelo lado do embarcador ou pelo lado do transportador; hoje está concentrado no embarcador, que concentra o risco, e que tem valores, de fato, muitíssimo elevados e proibitivos.
Se essa lógica se alterar a partir de todo esse raciocínio, o que se tem é a concentração, primeiro naquele que detém as condições de reduzir o risco e que hoje não tem interesse em reduzir o risco e, mais, o seguro que passa a atuar é o seguro do transportador, que é quem pulveriza esse risco. Ele não tem mais a concentração que o embarcador tem, ele tem o risco pulverizado que permite a redução do prêmio e, conseqüentemente, permite que se trabalhe com valores de prêmio mais reduzidos.
Desembargador Guimarães e Souza:
Eu só quis fazer o papel aqui de advogado do diabo.
Doutor Ernesto Tzirulnik:
Tem um ponto que não podemos ignorar. O que a NTC queria era que a cobertura de roubo viesse no seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas (RCTR-C), que é obrigatório. E fosse assim não seria possível aos seguradores recusarem seguros de certas mercadorias, pois o seguro seria obrigatório, de aceitação compulsória. Isso ainda não aconteceu e seria saudável que ocorresse. Nós sabemos que existem algumas seguradoras – e se algumas fazem isso outras acabam sendo forçadas a imitar, porque são concorrentes e é preciso ter resultados equiparados – que recusam o risco de responsabilidade civil pelo transporte de determinadas mercadorias.
Esse problema existe e creio que o tempo vai soluciona-lo. Mas há outro problema, que é pior!
Hoje ainda se encontra, no mercado segurador, um comportamento de vacilação quanto à apresentação de teses jurídicas: quando sub-rogadas no direito do embarcador, as companhias sustentam a inexistência de excludente de responsabilidade em caso de roubo, mas quando seguradoras de responsabilidade do transportador com cobertura para o roubo, muitas vezes, apóiam o seu segurado no sentido de que este negue sua responsabilidade, com base na jurisprudência dominante, a que afirma ser caso de exclusão de responsabilidade. Assim, o transportador não usa o seguro. Assim o cliente do transportador morre com o prejuízo, ou a seguradora deste.
O “status” é esse. O segurador opera o seguro responsabilidade do transportador contra o roubo, mas ao mesmo tempo é vacilante. Se roubo exclui responsabilidade, como o risco de roubo é objeto de seguro de responsabilidade?
As decisões que existem com relação ao furto de roubo de carga, via de regra, trabalham com a idéia de que se é possível tomar medidas de prevenção e não foram tomadas, então, nesses casos, se responsabiliza o transportador. Essas medidas são sempre vistas como o uso de recursos materiais: a escolta, o satélite etc. Os juízes, como todos nós, têm uma certa dificuldade para encontrar a mesma essência de uma escolta ou de um controle pelo satélite na garantia securitária, ou seja, no serviço securitário.
Essas minhas observações foram por certo desnecessárias após a brilhante exposição do Maurício.
Vou me estender um pouco mais. Espero que me cassem a palavra. Mas é que, em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que o Ayrton Pimentel não conseguiu me desmentir a respeito dele próprio: é um profundo conhecedor dos seguros pessoais.
Mas, indo ao debate, vimos que o Ayrton, examinando o artigo 1.444, salientou ser relação da técnica securitária, a relação risco-prêmio. O Francisco Braga também pontuou isso, com o mesmo brilho, na primeira palestra deste curso. Se essa relação é nuclear, base da técnica e, portanto do direito do seguro, não ficou claro, para mim, na exposição do Ayrton, se a boa-fé tem como função reprimir o agente, ou seja, o segurado que não foi verdadeiro, ou se tem como objetivo proteger o segurador, contra sinistros decorrentes de risco não previsto, isto é, contra a quebra daquela relação essencial risco-prêmio. Parece-me que a partir da resposta que dermos, da visão que tivermos sobre ser um ou outro o objetivo do artigo 1.444, poderemos compreender a questão do nexo etiológico em dois lances: entre aquilo que se omitiu e a causa da morte e entre esse nexo e a negativa de cobertura. Exemplifico: eu tenho um problema cardíaco, eu omito e estou no momento da contratação; se não omitir, eu sei que não vai haver nem avaliação e nem nada, é recusa pura e simples; com certeza – e falo por experiência própria – vou receber um fonograma imediatamente dizendo que a proposta foi recusada; então, eu digo que tudo está bem, que me cuido. Eu creio que nunca coloquei numa proposta de seguro que sofro de “prolapso da válvula mitral”, até porque meu cardiologista me disse que um quarto da população tem esse defeito coronário, que é genético. Recentemente, coloquei numa proposta de seguro, feita a uma seguradora da qual fui segurado durante muitos anos, com uma interrupção de meses, e da qual sou advogado. A seguradora está submetida a um sistema que não dá para ficar examinando caso a caso; então prontamente recusou-me.
Depois disseram-me que, na realidade, o problema coronário apontado, a rigor, não determinaria a recusa e pediram-me pra fazer nova proposta. Fiquei aborrecido e não fiz. Mas fica o problema. Digamos que contratei um seguro de vida, como várias vezes ocorreu comigo no passado, e omiti esse fato. Durante a vigência do seguro, venho a ser atropelado e morro. Dependendo de como encararmos o problema do nexo entre omissão e sinistro, vamos ter uma solução diferente. O Ayrton, ao afirmar que tem natureza de penalidade a perda do direito do art. 1.444, acabaria opinando pela negativa da indenização. Se observada a relação risco omitido e sinistro verificado, não haverá relação. A minha omissão teria sido irrelevante diante do atropelamento. Não vejo como teria afetado, no meu caso específico, a relação risco-prêmio. Se nós entendemos que, face ao artigo 1.444 devemos reprimir os agentes, então, como eu não fui verdadeiro, vou ser penalizado; meus beneficiários não vão receber indenização. Me parece que não está havendo lesão de ordem técnica, no caso do exemplo.
Doutor Ayrton Pimentel:
Quando confessei, aqui, o meu temor, falando para essa platéia tão qualificada, dizia que o meu temor maior eram as perguntas. Vocês percebem que eu tinha inteira razão. Vejam! Eu acho que tem uma questão extremamente importante e eu acho que de muita complexidade mesmo.
Vou começar a analisar a situação em que é omitida uma doença. Vamos imaginar uma situação padrão: o pretendente ao seguro sabe que tem uma doença e omite a doença; se a seguradora soubesse da existência daquela doença, ela não contrataria, ou seja, a doença influiu na aceitação do seguro. Foi a causa fundamental para a contratação do seguro. E depois morre de uma doença diferente daquela que foi omitida. Eu acho que fica mais fácil, ou menos difícil. O que diz o artigo 1.444? O artigo 1.444 diz que se ele não fizer declarações… que influam na aceitação. Ele não diz que influa no sinistro, ou seja, o artigo 1.444 não diz que influa sobre os sinistros, mas que influa sobre a aceitação do risco. Do ponto de vista do direito positivo, me parece não haver necessidade de nexo entre o fato omitido e o sinistro. Algumas legislações até são claras nesse sentido – não vou citá-las de memória porque posso cometer algum equívoco. Existe uma corrente doutrinária muito respeitável no sentido de que não há necessidade dessa relação entre o fato omitido e o sinistro. Por que? Porque, na verdade, o contrato foi decorrente da omissão de um fato conhecido, ou seja, o contrato foi decorrente, no mínimo, de uma negligência do segurado e ele não pode adquirir direito em razão da sua negligência. Acho que o direito não se contrasta com essa situação. Cometo uma negligência, essa negligência traz um prejuízo ao outro contratante, e eu adquiro o direito frente a esse contratante que foi a vítima da negligência, essa é uma questão. Acho que não há essa necessidade do nexo entre o fato omitido e o sinistro. A tese pode até ser surpreendente. Entretanto, me parece que, do ponto de vista dos princípios, é perfeitamente aceitável. Como eu disse, algumas legislações são até explícitas nesse sentido, alguns autores também, como Halperin, Gasperoni, Moitinho de Almeida; todos eles entendem que não há necessidade.
Em contrapartida, parece que há alguma legislação, se eu não me engano é a alemã, que estabelece que tem que haver influência da omissão sobre o sinistro. A nossa não faz essa exigência; acho que, do ponto de vista do direito positivo, não há essa exigência do nexo. Claro que a questão se complica com o seu exemplo: você é atropelado. Eu sou mais dramático. Mas aí, Ernesto, sempre convivi muito com essa dúvida e confesso, de público, aqui, minhas fraquezas. Sempre tive muita dificuldade de encontrar essa solução, mas o que me parece é o seguinte: aí nós vamos voltar à existência de dois seguros: para o seguro de vida a declaração de saúde é fundamental, mas ela não é para o seguro de acidentes pessoais. Então, do ponto de vista do seguro de acidentes pessoais, aquela omissão não teria sido fundamental para o contrato; teria sido para a contratação do seguro de vida.
Reconheço que a solução não é fácil, que a gente tem algumas complicações no meio do caminho, mas, num certo sentido, essa é a solução que eu vejo. Tem-se o seguro de acidentes pessoais e tem-se o seguro de vida. O seguro de vida está comprometido, porque você não contrataria aquele seguro. Agora, o outro, contrataria?
Desembargador Guimarães e Souza:
Acabou? Mais alguma indagação?
Em relação à palestra do Professor Maurício, pude extrair e pelo que tenho notícias, realmente, de processos, é que na responsabilidade do transportador, que é objetiva, algumas vezes ou até em muitas vezes as partes enveredam numa discussão a respeito da culpa; se a responsabilidade dependesse da culpa do transportador. O Doutor Maurício deixou bem claro que é totalmente irrelevante saber se houve culpa do transportador ou não. Agora, eu quero dizer que a mim me seduz essa proposta, essa tese defendida pelo Doutor Maurício no sentido de que se deve afastar essa hipótese de caso fortuito e força maior que vem sendo sustentada pelos transportadores, até por seguradoras, e aceita pelo Poder Judiciário. A mim me seduz muito que se afaste essa possibilidade.
Em relação à posição do Doutor Ayrton Pimentel, com a devida “venia”, eu ousaria divergir desse ponto e acompanharia o entendimento do Doutor Ernesto, no sentido de que seria mais equânime examinar o nexo etiológico. Mas é uma questão bastante controvertida mesmo: saber se o fato de o segurado não ter declarado no preenchimento do formulário de que sofria um determinado mal poderia influir num eventual atropelamento ou mesmo homicídio.
Os temas são muito importantes. Desde o início deste curso estamos vendo quão complexo é o contrato de seguro e, na verdade, o quanto desconhecemos esse contrato. Por isso a importância de eventos desta natureza, para que haja exposições esclarecedoras sobre pontos duvidosos e, ao mesmo tempo, para que possamos trocar experiências e aprendermos um pouco desse contrato, eu volto a dizer, que seduz.
Doutor Maurício Luís Pinheiro Silveira:
Gostaria de fazer uma observação que achei importante. Primeiro, na ponderação do Doutor Ernesto. Quando eu sentei para analisar essa questão, eu tinha uma tranqüilidade muito grande, que era a seguinte: não havia o comprometimento de se chegar a conclusão tal ou qual. Então, conheço e sei que as companhias seguradoras, muitas vezes, agem mal nesse sentido, e reitero o seguinte: por força até das decisões que se têm adotado em relação à responsabilização do transportador, todos os envolvidos se adaptam, inclusive o segurador; nossa análise é no sentido de que essa Jurisprudência seja alterada também para que o segurador, quando da contratação do seguro do transportador, jamais o recuse, porque está na lógica de todo esse raciocínio que o transportador tenha cobertura, inclusive nos casos em que a mercadoria transportada é mais “riscosa”. Porque senão vamos deixar desprotegida novamente a operação – o que não se quer, obviamente.
Uma segunda coisa. O Doutor Ernesto fez uma ponderação no sentido de que o seguro do transportador é seguro facultativo e o do embarcador é obrigatório, o que é verdade. É importante que se deixe claro, até porque já vi esse tipo de discussão em ações judiciais, o fato de ser facultativa a contratação do seguro do transportador não faz com que a opção do transportador pela não contratação o torne menos responsável, porque cheguei a ver construções dessa natureza. A contratação do seguro é facultativa e ocorre o seguinte: se ele não contratou, não houve a cobertura, então, incidiria o 1.058? Não! Uma vez que existe à disposição do transportador o seguro, ainda que facultativo, ele tem a opção de contratar o seguro e ter esse risco garantido, ou ele próprio assumir o seu patrimônio pela responsabilidade por não ter contratado. Me parece que o fato de ser facultativo não altera essa lógica da responsabilização do transportador. Era essa a observação.
Desembargador Guimarães e Souza:
Na verdade, também o agravamento do risco vai importar no aumento do prêmio do seguro. Fatalmente esse aumento do seguro vai desaguar lá na ponta do consumidor. É o consumidor quem vai pagar no final. Então, não é o transportador quem vai arcar com esse aumento de despesas, nem aquele que contrata o transporte; quem vai pagar, no fundo, é o consumidor.
Doutor Maurício Luís Pinheiro Silveira:
Pelo contrário! Pela lógica da estrutura do seguro, quanto mais transportadores contratarem o seguro de responsabilidade civil, maior será a pulverização e menor será o prêmio. Então, para o consumidor é fundamental que os transportadores contratem o seguro, justamente porque o valor da garantia passa a ser menor. Lembro até, como o Doutor Ernesto tinha ponderado, que a idéia inicial da NTC era que não se criasse um seguro facultativo, em que se cobrisse o roubo, mas que se incluísse o risco de roubo no seguro obrigatório do transportador, o que seria muitíssimo melhor e espero que ainda venha a acontecer.
Desembargador Guimarães e Souza:
Mais uma vez, em meu nome e em nome da Escola Paulista da Magistratura agradeço aos eminentes expositores, Doutores Ayrton Pimentel e Maurício Luís Pinheiro Silveira, pelo brilho das suas palestras e pelos temas que trouxeram. Agradeço aos integrantes da mesa e à participação de todos e os convido para, na próxima sexta-feira, estarmos novamente juntos.
Um bom dia a todos.
Damos por encerada a sessão.